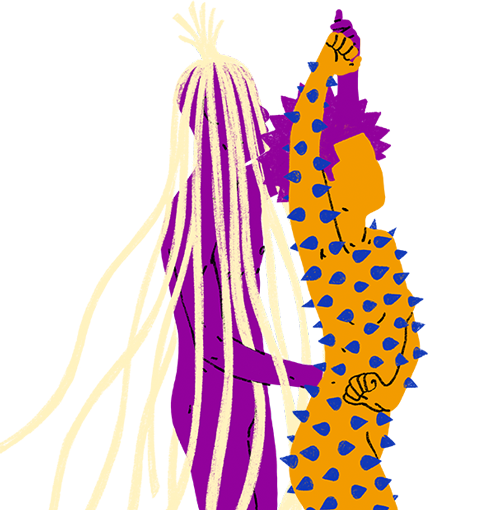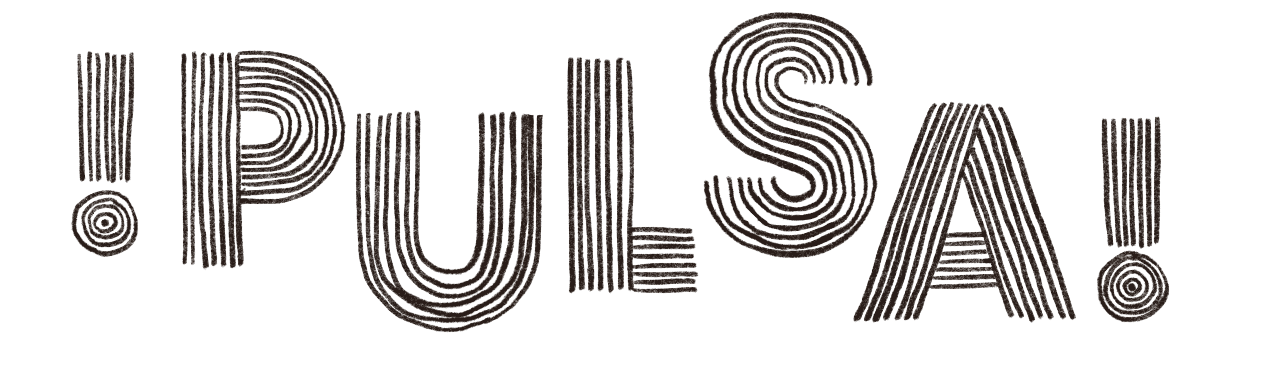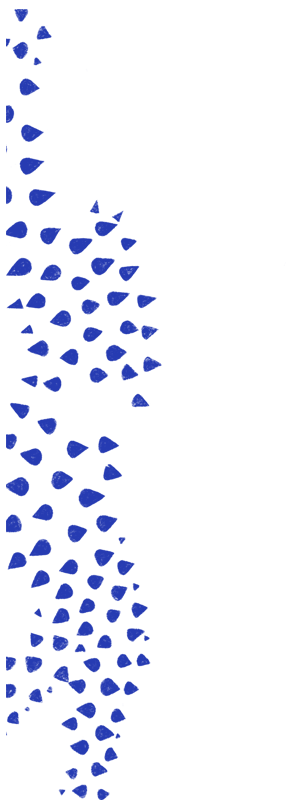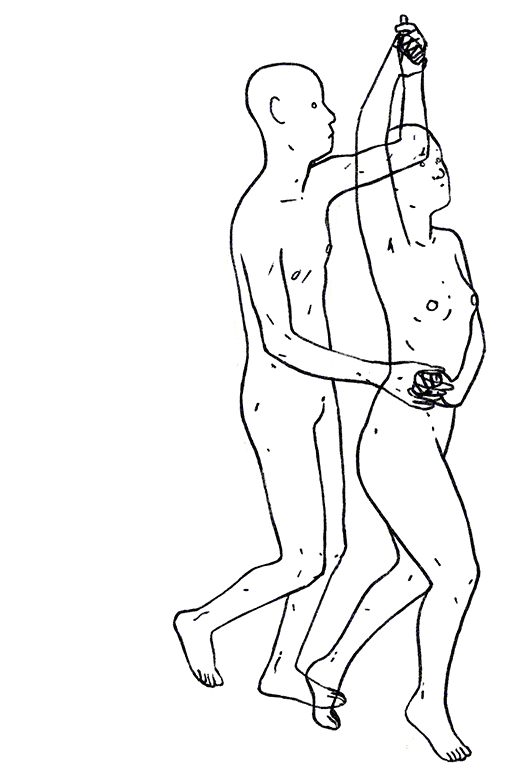Por Ondovato.
Há sempre um monstro em nós, uma monstruosidade que nos habita. Mas adoramos nos dizer criação de deus. Cultuamos e cultivamos esse parentesco com o ser que nos forjou à sua imagem e semelhança, só não levamos em conta nossas pequenas e grandes monstruosidades, aquilo que nos afasta dessa pretensão imoderada. Se deus é perfeito, por que somos imperfeitos?
Monga é um tapa na cara de nossa suposta humana-divindade. Nos escancara o espelho a que somos obrigados a olhar e vislumbrar o corpo descarnado de nós mesmos, tendo as vísceras retiradas expostas sobre o mármore frio, descarte necessário para o processo pernicioso de nosso próprio embalsamamento, a casca em exibição solene na plenitude do artista. Ele é Deus. Ela é Deusa. A criatura — perdoem-me essa gota de escárnio! — capaz de moldar a mensagem ao intuito transformativo traz em seu sangue o DNA das deidades, o fio invisível que concatena as leis conhecidas e desconhecidas do universo.
Mais uma vez rogo por vossa indulgência, dessa vez pelo uso de jargão consagrado nos manuais de autoajuda, mas do qual não posso prescindir: não há transformação sem dor. Colo aqui os pedaços desse clichê batido somente para atestá-lo; é assim mesmo! Vai doer, e não há como fugir. Da mesma forma como não há fuga possível da mulher-gorila uma vez desvelada, não há como escapar sem confronto. Uma contenda interna, que nos lanha e marca. E está lá o espelho, e estamos lá, observando nossas feridas e monstruosidades, sem saber quem é mais monstruoso, se o bicho atrás das grades ou o outro bicho que o espia. É bem provável que seja o bicho que os aprisiona.
Dali, do palco, envolta numa espécie de encantamento cênico, Jéssica Teixeira, livre, abre a porta de nossa jaula.
Sai quem quer!