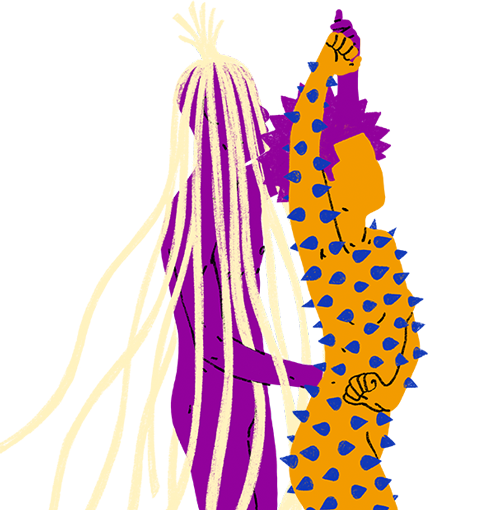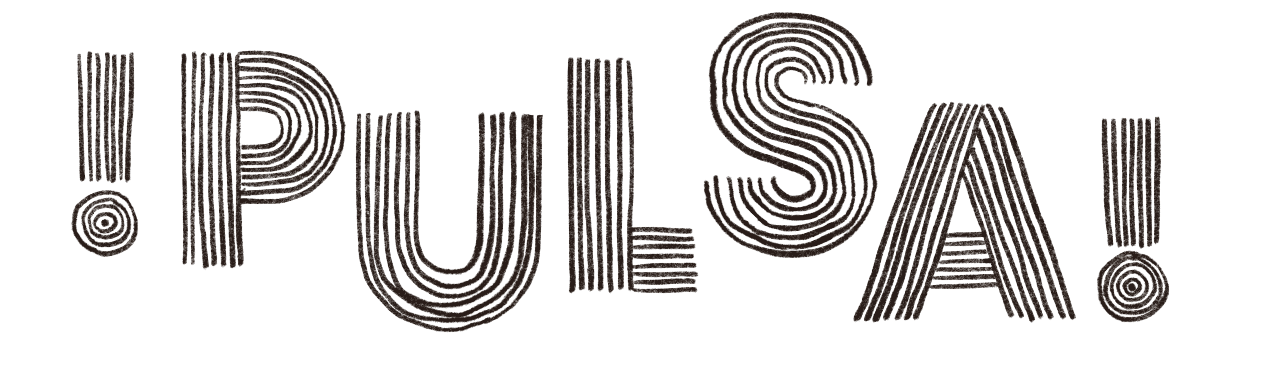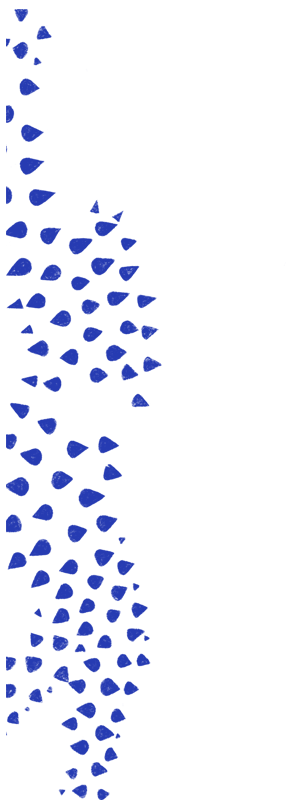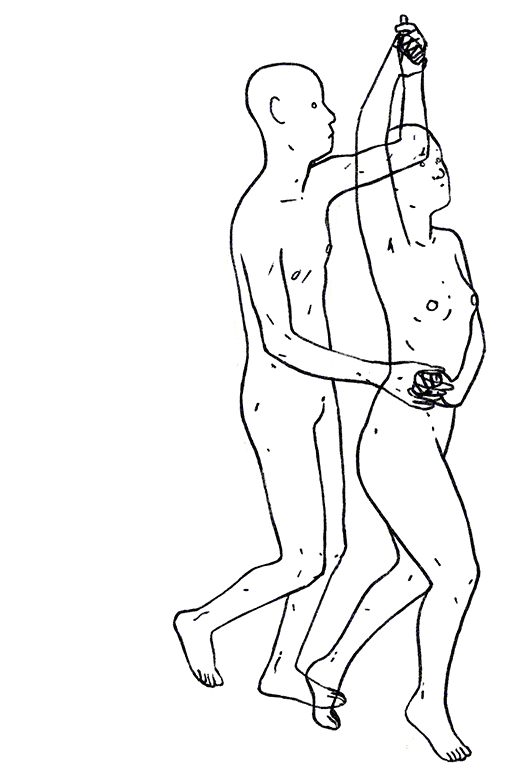Por Alberto Silva Neto.
Quem nunca assistiu, em parques de diversões, ao número da mulher macaco, no qual um truque de luz com espelhos transforma uma linda moça em uma fera? Tenho uma memória viva dessa cena popular desde a minha infância, quando frequentava o arraial montado anualmente em torno das festividades do Círio de Nazaré, em Belém do Pará.
O que jamais poderia imaginar é que algo ligado para mim à diversão tenha como fonte a história real de exploração de um ser humano, em razão de seu corpo aberrante. Tudo começou no Século XIX, no México, quando Júlia Pastrana, acometida de doença rara caracterizada pelo crescimento anormal de pelos, virou atração de circo. Depois da morte dela, seu corpo embalsamado foi exposto pelo mundo por mais de um século.
Conheci a origem cruel do sucesso mundial da mulher macaco assistindo ao espetáculo Monga, com dramaturgia, direção e atuação da cearense Jéssica Teixeira. A cena parte da aparência física fora da curva da artista para propor um debate no território das políticas do corpo, pelo viés da aproximação entre representação e representatividade.
A encenação de “Monga” situa a ação em um espaço que alude à espetacularização, o que me remeteu à obra “A sociedade do espetáculo”, no qual Guy Debord apresenta o espetáculo como principal produção da sociedade moderna. Na direção dessa premissa, a história de Júlia Pastrana torna-se exemplar acerca da ausência de limites éticos para a indústria do entretenimento. E a arte de Jéssica Teixeira é um notável testemunho disso.